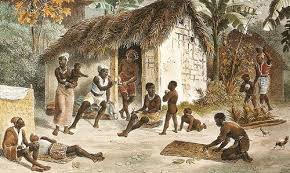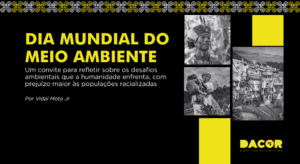Por Dandara Fonseca
Atuando na área da educação há mais de 30 anos, a voluntária do Dacor compartilha sua trajetória repleta de conquistas.
Doutoranda e mestre em Educação pela PUC-SP, Silvia Lima é formada em Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Gestão Sistêmica de Famílias e Redes e Gestão de Projetos. Voluntária do Dacor e atualmente gerente da área de Advocacy do Instituto Ayrton Senna, ela construiu uma carreira admirável. Mas por trás desse currículo impressionante, há uma história marcada por desafios e barreiras superadas — assim como a de tantas outras pessoas pretas.
Nascida no Capão Redondo, em São Paulo, foi por meio dos estudos que Silvia descobriu que podia alçar voos maiores. Tornou-se educadora social sem saber exatamente o que isso significava, mas, ao longo do tempo, se apaixonou e se dedicou profundamente à educação. Hoje, trabalha diretamente com quem pensa políticas públicas relacionadas à área. Nesta conversa, Silvia compartilha sua história com a gente e reflete sobre os avanços e os obstáculos da busca por uma educação antirracista.
Pra começar do começo, queria saber um pouco mais sobre a sua infância.
Eu sou de São Paulo, nascida e criada na região do Capão Redondo. Morava com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Meus pais tiveram treze filhos, morreram nove. Então desde sempre eu tenho uma história muito forte e triste, mas também muito bonita. Minha irmã nasceu com uma leve deficiência cognitiva e, em seguida, oito faleceram. Nasciam e faleciam. Depois disso eu nasci, e depois de mim vieram os outros que estão vivos. Minha mãe tem 81 anos hoje, uma mulher com a metade do meu tamanho, mas muito forte. Então hoje tenho mais três irmãos: uma mais velha e dois mais novos.
E quando você saiu de casa?
Era nova, mas, na região onde eu morava, sentia que já tinha conquistado tudo. Trabalhava, era independente financeiramente, tinha terminado o ensino médio e estava com um homem bonito e branco — algo que a sociedade julgava como uma grande conquista. O que mais uma mulher negra poderia querer na vida? Casar! E assim foi. Me casei amando, o que foi muito bom, e fiquei casada por oito anos. Gosto muito de um documentário feito pelo Itaú sobre adolescentes periféricos de diferentes regiões do país, no qual eles dizem: “Nunca me sonharam advogado, nunca me sonharam…”. Eu fui uma dessas pessoas que nunca sonharam algo além de terminar o colegial.
E quando você percebeu que existiam outros futuros possíveis?
Meu primeiro emprego seria como empregada doméstica. Aos 14 anos, trabalhei por uma semana na casa de uma pessoa e abandonei porque não gostei. Depois, trabalhei em um bar, mas também não gostei. Aos poucos, fui entendendo que queria mais. Sempre gostei de estudar, então continuei. Morar na periferia me fez enxergar muitas coisas e desejar um futuro diferente. Eu não sabia exatamente o que queria, porque nos limitam tanto que nem conseguimos enxergar todas as possibilidades, mas fui tateando o caminho.
Seus pais foram importantes nessa decisão?
Meus pais nunca me incentivaram diretamente a estudar muito, mas também nunca deixaram de apoiar meus sonhos, especialmente minha mãe. Na década de 90, o Capão Redondo era considerado uma das regiões mais perigosas de São Paulo. Nós tínhamos um dogue alemão que, em pé, tinha quase dois metros. Minha mãe, super baixinha, pegava aquele cachorro e ia me buscar toda noite na escola porque eu decidi estudar à noite.
E a questão racial? Como era para sua família?
Não era uma questão discutida. Em casa, nós éramos apenas pessoas, pessoas amadas. Mas, em outros lugares, nos chamavam de “piche” e outros termos pejorativos. No entanto, não levávamos isso para dentro de casa. Lembro que, quando me chamavam de preta na escola, eu pegava os lápis mais escuros e dizia que não era preta. Na adolescência, isso veio mais forte, porque todas as minhas amigas eram brancas. Trabalhava e usava o dinheiro que sobrava para comprar roupas sociais, me arrumar melhor e me destacar. Sempre busquei falar muito também bem, eram os recursos que eu tinha para ser vista, conseguir namorados… Eram mecanismos de defesa, sobrevivência e convivência.
Falando da parte profissional, como começou sua trajetória na educação?
Eu estava desempregada quando, em 1994, uma conhecida me indicou para ser educadora social. Eu não sabia nada sobre educação, mas, na época, brincávamos que o papel do educador social era tirar as crianças da rua e colocá-las na escola. Depois, o trabalho foi ganhando intencionalidade, e fui crescendo como educadora com a ajuda de muitas pessoas incríveis, que hoje são amigas. Não havia formações sobre educação antirracista como temos hoje, mas eu já buscava maneiras de trazer essa pauta para a sala de aula, indicando livros, músicas e promovendo discussões. Era muito gratificante.
Você chegou a fazer alguma faculdade nessa época?
Fiz Psicologia. Consegui uma bolsa na FMU, uma das melhores faculdades particulares na área. Usava meu décimo terceiro para pagar a matrícula, sem nem saber se conseguiria continuar estudando. Terminei o curso em 2000 e segui como educadora social. Comecei a me tornar referência e fui chamada para a coordenação, onde fiquei até entrar no Instituto Ayrton Senna, onde estou há 19 anos. Também me formei em Pedagogia, em 2010.
O que você fazia no Instituto?
Cheguei como agente técnica, ou seja, a pessoa que vai até as Secretarias de Educação. Nesse cargo também fui me destacando, até que me convidaram para ser coordenadora do time de agentes técnicos. O caminho não foi fácil, levou anos, e vi mulheres brancas menos capacitadas ocupando esse cargo antes de mim. Quando finalmente assumi a posição, as pessoas me parabenizaram, falaram que era mais que merecido, mas a verdade é que eu sempre estive ali. Só nunca me sonharam naquele cargo. É por isso que digo que não basta se dizer antirracista. O que você faz de forma concreta no dia a dia para reverter essa situação?
Qual a importância, na prática, de termos pessoas pretas em cargos como esse?
Nós temos um gingado, um swing no jeito de falar, de nos relacionarmos, que é muito afetivo. Isso faz com que a gente se destaque de um jeito diferente nos lugares. Sem contar que o nosso olhar faz a diferença, né? Conseguimos apontar coisas que pessoas que não são negras não estão acostumadas, não vivenciaram, não sofreram. Por exemplo, uma vez fizemos uma dinâmica em que perguntávamos por que os adolescentes pararam no ensino médio. E nenhuma das respostas era “eu tive que trabalhar”. Eu sempre quis ser professora, mas o Magistério era em período integral e longe. E eu tinha que trabalhar. Por isso, hoje eu me emociono ao falar que concluí o meu mestrado.
E como foi a experiência do mestrado?
Quando me apresentei no mestrado, eu disse: ‘Demorei 20 anos para chegar aqui, é muita coisa’. Os jovens que disputam para dar aula comigo nas universidades têm mais tempo para escrever artigos. Eu sou uma mãe que trabalha e estuda. Já foi difícil escrever a tese, como vou escrever artigos? Eu preciso dormir, e me divertir também. Sou uma mulher que gosta de samba e fiz meu mestrado sambando, se não eu ia pirar. Então assim, tive que dar uma volta longa, mas cheguei. Não é fácil, mas você tem que aceitar os desafios com medo mesmo, se não alguém vai aceitar no seu lugar.
Hoje, o que você faz no Instituto?
Sou gerente da área de Advocacy, que é uma área super nova, mas eu gosto de ser vanguarda nesse sentido. Advocacy significa incidência política. Ou seja, antes eu trabalhava com as secretarias de educação e com os professores. Hoje, eu trabalho com quem pensa políticas de educação que influenciam as secretarias e os professores, como deputados, senadores, o Ministro da Educação. Também sou porta-voz do Instituto Ayrton Senna, o que significa que dou entrevistas falando sobre nosso trabalho.
Como é ocupar esse espaço tão novo?
É difícil, muitas vezes sou a única mulher negra. Você olha para o lado e não vê onde se ancorar, sabe? É comum surgirem pensamentos como: ‘O que eu estou fazendo aqui? Será que eu dou conta? Essas pessoas sabem mais do que eu, são melhores que eu…’. Você sabe que é foda por ter chego ali, mas é dificíl. Tem que se segurar na sua autoconfiança e no seu autoconhecimento.
Você considera que, hoje, nós temos uma educação antirracista no Brasil?
Bom, existe muita diferença entre teoria e prática. A gente avançou em políticas públicas? Sim, existem leis que fomentam a educação antirracista. Por exemplo, a lei 10.639, que estabelece a inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial, completou 20 anos. Mas ela foi seguida nesses 20 anos? Não em todos os lugares. É preciso pensar como dialogar para que ela se torne uma prática, e não só esteja no papel.
Como o terceiro setor vem se colocando em relação à equidade racial na educação?
Várias organizações têm abordado a equidade racial na educação de forma muito interessante, fazendo provocações pertinentes, mesmo que no miudinho — lendo documentos, dialogando, produzindo materiais e formando pessoas. O Guetto e, claro, o próprio Dacor, são exemplos que admiro muito. Além disso, há avanços por meio de políticas públicas. Antes, tínhamos apenas o dia 20 de novembro; agora, novembro inteiro é o Mês da Consciência Negra. As empresas também passaram a ser mais valorizadas quando pensam na diversidade do seu público e dos seus trabalhadores. Aos poucos, vamos encontrando maneiras de ocupar esses espaços.
Falando em Dacor, como você conheceu o Instituto?
Eu e o Helton, presidente do Dacor, nos conhecemos há 19 anos. Ele participou do meu processo seletivo no Instituto Ayrton Senna, onde já estava há um ano. Ao longo dos anos, fui acompanhando a trajetória dele, e ele a minha. Quando o Dacor começou, ele me pediu para dar uma olhada no material. Fiquei encantada, trouxe algumas considerações e falei: ‘Vai dar certo’.
Na época, não consegui entrar oficialmente por conta do mestrado, mas sempre colaborei como pude — participando de reuniões, trazendo provocações. Não sou a voluntária mais presente, mas hoje faço um trabalho quase de Advocacy: falo sobre o Dacor, conecto pessoas e instituições parceiras. Essa é a minha forma de contribuir.
Qual a importância dos dados na educação e na luta antirracista? Sem dados, não há educação. Sem dados, não há luta antirracista. Isso porque precisamos de informação. E quando falo isso, não me refiro apenas a números—é preciso levantar os dados e analisá-los de perto. Quem é essa pessoa? De onde ela vem? O que viveu? O que a diferencia dos outros? São esses dados qualitativos que ajudam a construir e repensar uma educação de qualidade.
O mesmo vale para as políticas públicas. Não basta saber que X crianças estão alfabetizadas. Se não identificamos que a maioria das crianças não alfabetizadas são negras e periféricas, não conseguimos resolver o problema. Educação exige intencionalidade. Não temos tempo, não temos dinheiro e estamos muito atrasados. Precisamos ser certeiros.