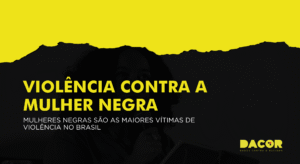Criador do blog Sons da Perifa, o designer, fotógrafo e jornalista compartilha sua trajetória e destaca a importância de dar visibilidade às questões das periferias
Por Dandara Fonseca
Nascido no Grajaú, maior bairro da cidade de São Paulo, Jairo Malta cresceu vendo de perto a violência dos anos 90. Também enfrentou inúmeros episódios de racismo, apesar de só ter tomado plena consciência disso alguns anos depois. Sua perspectiva de mundo começou a se expandir quando iniciou sua carreira como designer, o que lhe permitiu descobrir novos sons, conhecer novos lugares e viver novas experiências.
Atualmente, Jairo também trabalha como jornalista e é o criador do blog Sons da Perifa, da Folha de S.Paulo. Recentemente, fundou a Corre, uma consultoria destinada a fomentar projetos das periferias. Conforme ele mesmo define, seus principais objetivos são “jogar luz nas pautas periféricas, questionar e trazer soluções — ou mais problemas, mas problemas importantes”. Aqui, ele compartilha a sua história com o Dacor.
Dacor. Me conta um pouco de onde você veio: onde nasceu, cresceu, quem estava à sua volta nesse momento?
Jairo. Eu nasci há 36 anos atrás, em 1988, no Grajaú, extremo sul de São Paulo. Venho de uma família com muitas mulheres. Minha avó veio de Sergipe no final dos anos 60, quando o Grajaú ainda era uma área rural, e viu a região se transformar no que é hoje: o maior bairro da cidade. Cresci lá, ao lado dos meus pais e irmãs, durante o auge da criminalidade dos anos 90, época em que começava a se formar o que viria a ser o PCC. Tive parentes e amigos presos, visitava muitos presídios.
E você sempre gostou de desenhar e escrever?
Meu pai é desenhista Meu pai é desenhista têxtil e minha mãe é costureira. Talvez por isso eu tenha seguido o caminho das artes. Primeiro, fiz um curso de design. Depois, cursei artes visuais na ECA. Foi ali que começou minha trajetória profissional. Em 2005, entrei na Gazeta de Interlagos e, em 2007, fui para a Editora Globo, onde fiquei quase dois anos na revista Quem. Saí de lá e fui trabalhar como designer gráfico para a socialite Joyce Pascovitch.
E como foi esse choque de realidades?
Uma maluquice, né? A gente que é pobre e periférico passa a vida vendo crime todo dia. Em 2009, fui convidado para cobrir o Carnaval de Salvador, e realmente entendi que o mundo era muito maior que o Grajaú. Conheci Gilberto Gil, Caetano Veloso, Quincy Jones… Descobri que o cara que canta “Thriller” é o Michael Jackson. Todo esse universo foi um estopim na minha vida, e comecei a pesquisar sobre música e tudo que me interessa hoje.
Conta um pouco mais sobre as suas experiências profissionais? Trabalho anos com a Joana e acabo me direcionando mais para a direção de arte, o que me leva a fazer direção de fotografia para atores globais. Era uma semana com o Calum Reymond, outra com a Paola Oliveira. Depois de um tempo, recebo uma proposta da Folha de S.Paulo para reformular o caderno Ilustrada. Passo dois anos trabalhando nas capas desse jornal de mais de cem anos de idade. Ao mesmo tempo que é um dos períodos onde mais me coloco à prova, é também muito desgastante.
E quando o jornalismo surge na sua vida?
Já escrevia colunas de opinião para a Folha, sempre sobre temas relacionados à negritude. Então surge a oportunidade de fazer o trainee da Folha, viro jornalista e passo a escrever para o Sons da Periferia. É uma loucura, me ferro bastante, mas a visibilidade é muito grande, o que é muito bom. Acredito que a maioria das pessoas negras e periféricas têm essa mentalidade de que precisam trabalhar muito mais do que as pessoas brancas, se colocar muito mais. É uma lógica escravocrata, de ter que se mostrar valioso para o patrão, mas é a verdade.
Ter nascido na periferia fez com que você tivesse noção das questões raciais desde pequeno?
Não, e é muito doido isso, porque vivi episódios de racismo bem pesados ao longo da vida. Um exemplo: sempre que ia para a casa de um amigo que morava perto eu levava o meu videogame — vivíamos um pequeno momento de ascensão social, meu pai estava trabalhando como taxista. Ele foi me buscar de manhã e, na volta, a polícia parou o carro, colocou meu pai, que é um pouco mais claro que eu, de lado, e me imobilizou. Meu pai explicou que eu era filho dele, e os policiais disseram que havia uma suspeita de sequestro na região. Eu tinha 13 anos. Essa é apenas uma das coisas que passei.
E quando você começou a se identificar como um homem negro?
Só aos 29 anos, quando li uma matéria da jornalista Julia Reis para a Vice sobre como ela se descobriu negra, tive essa consciência e comecei a conversar com outros amigos sobre o assunto. Isso prova como um texto pode impactar a vida de uma pessoa. Às vezes, escrevo algo e acho besteira, mas logo depois recebo a mensagem de um menino que nunca vi na vida. Ou estou em um rolê, e alguém me diz que sabe quem eu sou, que curte meu trabalho, que gosta do Sons da Perifa.

Aliás, como surgiu o Sons da Periferia?
A criação do Sons da Perifa não foi necessariamente para falar com a periferia, mas para levar o discurso e as movimentações periféricas a um grande público que normalmente não tem acesso por conta do racismo e da branquitude. Hoje, acredito que o blog também se encontra num lugar de denunciar questões relacionadas ao racismo e ao papel do Estado. É um espaço dedicado à informação e ao questionamento.
Sua relação com a música já era intensa? Sua família tocava, ouvia muita música?
Não, minha família toda é religiosa, e eu fui criado como Testemunha de Jeová. Assim como muitos da minha geração, sou formado pela MTV, ouvia Britney Spears, pop e tudo mais que tocasse no canal. Já na escola, fazia parte do grupo do punk rock. Aliás, descobri recentemente uma coisa interessante: o Mr. Catra falava várias línguas, era advogado e guitarrista de uma banda de rock. Só depois ele virou rapper e, em seguida, funkeiro. Mas nossa criação nos anos 90 era assim, a gente ouvia de tudo.
E o rap, já era presente na sua vida?
Mais ou menos. Sinceramente, era muito bad vibes ouvir algo como Racionais naquele momento. Pra que ouvir “Sobrevivendo no Inferno” se você vê gente morta na rua todos os dias? Já é parte da sua vida cotidiana, de certa forma. Eu preferia ouvir RZO, Ndee Naldinho… Só comecei a ouvir Racionais depois de 2003, quando lançaram “Negodrama”.
Como é ser um jornalista negro nos dias de hoje?
É ótimo poder alcançar muitas pessoas com meus textos e aproveitar as oportunidades que surgem, como participar do Roda Viva. Mas muitas vezes acabo me tornando um especialista em assuntos relacionados à negritude. Recebo muitos livros, e todos estão de alguma forma ligados à questão racial. Se acontece algo com uma pessoa negra, costumam chamar um dos quatro jornalistas negros da redação. Nós podemos e devemos falar sobre outras coisas, até mesmo além da cultura e dos esportes — como economia, política, mercado e muito mais.
E qual a importância de ter pessoas pretas no jornalismo?
Hoje, quando um garoto branco morre, a história dele é contada em todos os lugares, porque os jornalistas se identificam. Não existem muitas pessoas negras em jornais de grande circulação, o que faz com que as mortes de garotos periféricos acabem se tornando apenas mais um caso cotidiano. Por isso, é crucial ter jornalistas de diferentes contextos e vivências. Essa é uma dificuldade que as próximas gerações ainda terão que enfrentar.
Como a grande mídia pode ajudar no combate ao racismo?
Eu acho que ela não deve apenas ajudar, mas sim ser um dos principais envolvidos. A grande mídia deve dar destaque a esse tema, noticiando desde pessoas famosas que cometem crimes racistas até situações como mortes e a estigmatização da periferia como violenta. É essencial que a mídia esteja engajada nessa luta.
Você está com um novo projeto, a Corre. Conta um pouco mais sobre ele pra gente?
A Corre é uma consultoria periférica que eu, Mateus Fernandes e Guilherme Macedo criamos. Observamos uma grande dificuldade das organizações e projetos da periferia em obter recursos para se desenvolver e realizar seus objetivos. Por isso, decidimos unir nossas habilidades e contatos para criar uma consultoria formada por negros da periferia. Estamos também buscando organizações de diferentes regiões do Brasil para compor nossa rede nacional de Projetos Sociais, que serão contatados para parcerias, eventos e projetos remunerados.
Você consegue definir, quais são, hoje, os principais objetivos do seu trabalho?
Meu trabalho hoje é voltado para o bem-estar da periferia, embora não possa abraçar todas as quebradas do Brasil, pois sou apenas um periférico. Meu principal objetivo é levar visibilidade às questões relacionadas a essas regiões, seja através do jornalismo ou de organizações. Quero questionar o que está posto, estimular reflexões e diálogos, e apresentar soluções — ou então problemas, mas problemas importantes.
Como você acha que os dados podem ajudar na luta contra o racismo?
Uma população sem dados é uma população que não existe. São os dados que nos permitem avaliar se estamos progredindo ou regredindo, além de avaliar o impacto das políticas públicas. Um exemplo: nos últimos anos, o número de pessoas negras aumentou no Brasil. Mas como isso ocorreu? Será que mais pessoas estão se reconhecendo dessa cor? Como elas entendem o racismo? Existem construções que dependem de dados, pesquisa e informações. O combate ao racismo é uma delas.